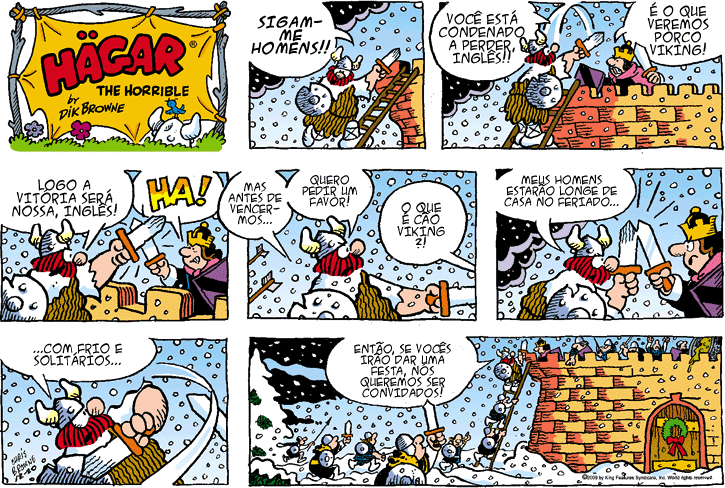Batia nos noventa anos o corpo magro mas
sempre teso do Jango Jorge, um que foi capitão duma maloca de
contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocaí.
Esse gaúcho desabotinado levou a
existência inteira a cruzar os campos da fronteira: à luz do sol,
no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na cerração das
madrugadas...; ainda que chovesse reiúnos acolherados ou que
ventasse como por alma de padre, nunca errou vau, nunca perdeu
atalho, nunca desandou cruzada!...
Conhecia as querências, pelo faro: aqui
era o cheiro do açouta-cavalo florescido, lá o dos trevais, o das
guabirobas rasteiras, do capim-limão; pelo ouvido: aqui, cancha de
graxains, lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo;
adiante, o chape-chape, noutro ponto, o areão. Até pelo gosto ele
dizia a parada, porque sabia onde estavam águas salobres e águas
leves, com sabor de barro ou sabendo a limo.
Tinha vindo das guerras do outro tempo;
foi um dos que peleou na batalha de Ituzaingo; foi do esquadrão do
general José de Abreu e sempre que falava do Anjo da Vitória ainda
tirava o chapéu, numa braçada larga, como se cumprimentasse alguém
de muito respeito, numa distância muito longe.
Foi sempre um gaúcho quebralhão, e
despilchado sempre, por ser muito de mãos abertas.
Se numa mesa de primeira ganhava uma
ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa, fazia — pi! pi!
pi! pi! — como pra galinhas e semeava as moedas, rindo-se do
formigueiro que a miuçalha formava, catando as pratas no terreiro.
Gostava de sentar um laçaço num
cachorro, mas desses laçaços de apanhar a paleta à virilha, e
puxado a valer, tanto, que o bicho que o tomava, ficando entupido de
dor, e lombeando-se, depois de disparar um pouco é que gritava, num
— caim! caim! caim! — de desespero.
Outras vezes dava-lhe para armar uma
jantarola, e sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio
entropigaitado, puxava por uma ponta da toalha e lá vinha, de tirão
seco, toda a traquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de
comidas e caldas dos doces!...
Depois garganteava a chuspa e largava as
onças pras unhas do bolicheiro, que aproveitava o vento e le echaba
cuentas degran capitãn... Era um pagodista!
Aqui há poucos anos — coitado —
pousei no arranchamento dele. Casado ou doutro jeito, estava
afamilhado. Não nos víamos desde muito tempo.
A dona da casa era uma mulher mocetona
ainda, bem parecida e mui prazenteira; de filhos, uns três matalotes
já emplumados e uma mocinha — pro caso, uma moça —, que era o —
santo-antoninho-onde-te-porei! — daquela gente toda.
E era mesmo uma formosura; e prendada,
mui habilidosa; tinha andado na escola e sabia botar os vestidos
esquisitos das cidadãs da vila. E noiva, casadeira, já era.
E deu o caso, que quando eu pousei, foi
justo pelas vésperas do casamento; estavam esperando o noivo e o
resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia, grande alegria;
começaram os aprontamentos, e como me convidaram com gosto, fiquei
pro festo.
O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte,
para ir buscar o tal enxoval da filha.
Aonde, não sei; parecia-me que aquilo
devia ser feito em casa, à moda antiga, mas, como cada um manda no
que é seu...
Fiquei verdeando, à espera, e fui dando
um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com
couro.
Nesta terra do Rio Grande sempre se
contrabandeou, desde em antes da tomada das Missões.
Naqueles tempos o que se fazia era sem
malícia, e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo: uma
partida de guascas montava a cavalo, entrava na Banda Oriental e
arrebanhava uma ponta grande de eguariços, abanava o poncho e vinha
a meia-rédea; apartava-se a potrada e largava-se o resto; os de lá
faziam conosco a mesma cousa; depois era com gados, que se tocava a
trote e galope, abandonando os assoleanos.
Isto se fazia por despique dos espanhóis
e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito.
Só se cuidava de negacear as guardas do
Cerro Largo, em Santa Tecla, no Haedo... O mais, era várzea!
Depois veio a guerra das Missões; o
governo começou a dar sesmarias e uns quantíssimos pesados foram-se
arranchando por essas campanhas desertas. E cada um tinha que ser um
rei pequeno... e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes
que tinha em casa!...
Foi o tempo do manda-quem-pode!... E foi
o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão, sozinhos,
conquistaram e defenderam estes pagos!...
Quem governava aqui o continente era um
chefe que se chamava o capitão-general; ele dava as sesmarias mas
não garantia o pelego dos sesmeiros...
Vancê tome tenência e vá vendo como as
cousas, por si mesmas, se explicam.
Naquela era, a pólvora era do el-rei
nosso senhor e só por sua licença é que algum particular graúdo
podia ter em casa um polvarim... Também só na vila de Porto Alegre
é que havia baralhos de jogar, que eram feitos só na fábrica do
rei nosso senhor, e havia fiscal, sim, senhor, das cartas de jogar, e
ninguém podia comprar senão dessas!
Por esses tempos antigos também o tal
rei nosso senhor mandou botar pra fora os ourives da vila do Rio
Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares
desta terra, só pra dar flux aos retnois...
Agora imagine vancê se a gente lá de
dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado pra se
defender, pra se divertir e pra luxar!... O tal rei nosso senhor não
se enxergava, mesmo!... E logo com quem!... Com a gauchada!...
Vai então, os estancieiros iam em pessoa
ou mandavam ao outro lado, nos espanhóis, buscar pólvora e balas,
pras pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro pras mulheres e
preparos de prata pros arreios...; e ninguém pagava dízimos dessas
cousas.
Às vezes lá voava pelos ares um
cargueiro, com cangalhas e tudo, numa explosão de pólvora; doutras
uma partilha de milicianos saía de atravessado e tomava conta de
tudo, a couce d’arma: isto foi ensinando a escaramuçar com os
golas-de-couro.
Nesse serviço foram-se aficionando
alguns gaúchos: recebiam as encomendas e pra aproveitar a monção e
não ir com os cargueiros debalde, levavam baeta, que vinha do reino,
e fumo em corda, que vinha da Bahia, e algum porrão de canha. E
faziam trocas, de elas por elas, quase. Os paisanos das duas terras
brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam...
Isto veio mais ou menos assim até a
guerra dos Farrapos; depois vieram as califórnias do Chico Pedro;
depois a guerra do Rosas.
Aí inundou-se a fronteira da província
de espanhóis e gringos emigrados. A cousa então mudou de figura. A
estrangeirada era mitrada, na regra, e foi quem ensinou a gente de cá
a mergulhar e ficar de cabeça enxuta...; entrou nos homens a sedução
de ganhar barato: bastava ser campeiro e destorcido. Depois,
andava-se empandilhado, bem armado; podia-se às vezes dar um vareio
nos milicos, ajustar contas com algum devedor de desaforos, aporrear
algum subdelegado abelhudo...
Não se lidava com papéis nem contas de
cousas: era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e
entregar!... Quanta gauchagem leviana aparecia, encostava-se.
Rompeu a guerra do Paraguai. O dinheiro
do Brasil ficou muito caro: uma onça de ouro, que corria por trinta
e dois, chegou a valer quarenta e seis mil-réis!... Imagine o que a
estrangeirada bolou nas contas!...
Começou-se a cargueirear de um tudo:
panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a
quatro!... Era só pedir por boca! Apareceram também os mascates de
campanha, com baús encangalhados e canastras, que passavam pra lá
vazios e voltavam cheios, desovar aqui...
Polícia pouca, fronteira aberta,
direitos de levar couro e cabelo e nas coletarias umas papeladas
cheias de benzeduras e rabioscas... Ora... ora!... Passar bem,
paisano!... A semente grelou e está a árvore ramalhuda, que vancê
sabe, do contrabando de hoje.
O Jango Jorge foi maioral nesses
estropícios. Desde moço. Até a hora da morte. Eu vi.
Como disse, na madrugada véspera do
casamento o Jango Jorge saiu para ir buscar o enxoval da filha.
Passou o dia; passou a noite.
No outro dia, que era o do casamento, até
de tarde, nada. Havia na casa uma gentama convidada; da vila,
vizinhos, os padrinhos, autoridades, moçada. Havia de se dançar
três dias!... Corria o amargo e copinhos de licor de butiá.
Roncavam cordeonas no fogão, violas na
ramada, uma caixa de música na sala.
Quase ao entrar do sol a mesa estava
posta, vergando ao peso dos pratos enfeitados.
A dona da casa, por certo traquejada
nessas bolandinas do marido, estava sossegada, ao menos ao parecer.
Às vezes mandava um dos filhos ver se o
pai aparecia, na volta da estrada, encoberta por uma restinga fechada
de arvoredo.
Surgiu dum quarto o noivo, todo no
trinque, de colarinho duro e casaco de rabo. Houve caçoadas,
ditérios, elogios.
Só faltava a noiva; mas essa não podia
aparecer, por falta do seu vestido branco, dos seus sapatos brancos,
do seu véu branco, das suas flores de laranjeira, que o pai fora
buscar e ainda não trouxera. As moças riam-se; as senhoras velhas
cochichavam. Entardeceu.
Nisto correu voz que a noiva estava
chorando: fizemos uma algazarra e ela — tão boazinha! — veio à
porta do quarto, bem penteada, ainda num vestidinho de chita de andar
em casa, e pôs-se a rir pra nós, pra mostrar que estava contente.
A rir, sim, rindo na boca, mas também a
chorar lágrimas grandes, que rolavam devagar nos olhos pestanudos...
E rindo e chorando estava, sem saber por
quê... sem saber por que, rindo e chorando, quando alguém gritou do
terreiro: — Aí vem o Jango Jorge, com mais gente!...
Foi um vozerio geral; a moça porém
ficou, como estava, no quadro da porta, rindo e chorando, cada vez
menos sem saber por quê... pois o pai estava chegando e o seu
vestido branco, o seu véu, as suas flores de noiva... Era já
fusco-fusco. Pegaram a acender as luzes.
E nesse mesmo tempo parava no terreiro a
comitiva; mas num silêncio, tudo.
E o mesmo silêncio foi fechando todas as
bocas e abrindo todos os olhos.
Então vimos os da comitiva descerem de
um cavalo o corpo entregue de um homem, ainda de pala enfiado...
Ninguém perguntou nada, ninguém
informou de nada; todos entenderam tudo...; que a festa estava
acabada e a tristeza começada...
Levou-se o corpo pra sala da mesa, para o
sofá enfeitado, que ia ser o trono dos noivos. Então um dos
chegados disse:
— A guarda nos deu em cima... tomou os
cargueiros... E mataram o capitão, porque ele avançou sozinho pra
mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto.., e ainda o
amarrou no corpo... Aí foi que o crivaram de balas... parado... Os
ordinários!... Tivemos que brigar, pra tomar o corpo!
A sia-dona mãe da noiva levantou o
balandrau do Jango Jorge e desamarrou o embrulho; abriu-o.
Era o vestido branco da filha, os sapatos
brancos, o véu branco, as flores de laranjeira...
Tudo numa plastada de sangue... tudo
manchado de vermelho, toda a alvura daquelas cousas bonitas como que
bordada de cobrado, num padrão esquisito, de feitios
estrambólicos... como flores de cardo solferim esmagadas a casco de
bagual!...
Então rompeu o choro na casa toda.
João Simões Lopes Neto, in
Contos gauchescos